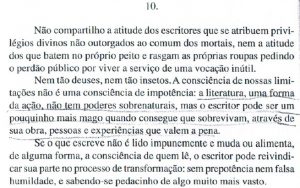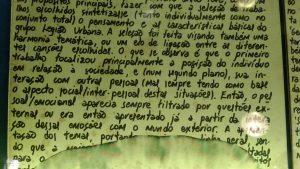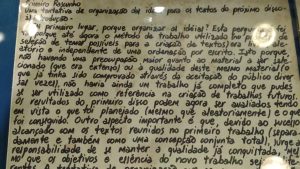Senha I1772.
Se for atendida pelo 6 é porque vou ganhar.
Se existe um lugar em que sou escritora esse lugar é o correio.
Há poucos lugares possíveis para ser escritor, por isso é muito difícil encontrar as pessoas que se dedicam à escrita no cotidiano da rua. O escritor não compra pão, a escritora não busca os filhos na escola.
Considero que a palavra escritor funciona como a palavra vestibulando. Foi uma bela crise de identidade quando descobri que só se é vestibulando no dia da prova, efetivamente prestando o vestibular. O ano inteiro enfiado em livros ou afiada em aulas do cursinho não qualifica, diz o dicionário, o/a jovem como vestibulando(a). Da mesma forma, só se é escritor/escritora quando se está, de fato, escrevendo.
Outro momento em que o escritor ou escritora são efetivamente escritor e escritora é quando divulgam seu trabalho, o lançamento em noite de autógrafos, as mesas de debate em eventos literários. Mas quando não se lançou livro para autografar e muito menos para falar sobre, qual o primeiro lugar em que me divulguei? O correio.
Faz dois anos e foi sem querer. Eu não falo que escrevo. Ou não falava. Mas quando o atendente atencioso perguntou se eu também não queria reforçar o segundo envelope já que me preocupei tanto em blindar de rasgos o primeiro, expliquei. Não tem problema que este venha um pouco danificado, é pra mim mesma. Pra você mesma? É. Você está mandando uma carta pra você mesma? Flagrada, bem sem graça, expliquei o que me explicaram em curso de direitos autorais. Como registro na Biblioteca Nacional sai caro, um envelope contendo os textos que o autor ou autora envia para si e mantém lacrado, com o carimbo do correio marcando a data, garante autoria em caso de contestação. É o mesmo que não ter crédito na praça e só possuir o nome a zelar sem mácula no Serasa. É o medo do iniciante, E se consideram que meu texto é excelente e outra pessoa diz que é dela, como eu provo? É ser amador e só ter duas coisas: a paixão à escrita e a autoria de alguns textos.
De qualquer forma, foi no correio, para o atendente astuto, que divulguei a minha obra e me nomeie escritora. O primeiro envelope? Ah, era para um concurso literário.
O terceiro momento em que também se é escritor e escritora é esse: a autonomeação. Argumento de base antropológica, se falo que sou escritora, eu sou e pronto. Continuei não me autonomeando nem me divulgando, mas meio indignada, resolvi fazer direito e registrar alguns textos meus. Assim, também fui escritora na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Claro que não viajei até lá para isso, fui visitar amiga e planejei o sonho, meu registro de nascimento como escritora seria na sede. Chamei a amiga para ser madrinha de batismo, mas não julguei o lugar digno de um nascimento. Não era a Biblioteca Nacional com suas escadarias de mármore, tapete vermelho e suas colunas de prédio histórico necessitando de restauro. Era um andar de prédio vulgar, no mesmo quarteirão que a clássica, que parecia um cartório. Mas é um cartório, ponderou minha madrinha, é que o nascimento já foi. Gostei da explicação e me considerei nascida.
Quem nasce quer se movimentar, deixei de rolar sobre meu próprio berço, escrevinhadora de fim de semana e passei a engatinhar em rápidas oficinas literárias. Escrevi um péssimo microconto na Casa das Rosas, frustrada não percebi: fui escritora na Avenida Paulista! No Ateliê da Casa Mário de Andrade, pedi chão aos caquinhos vermelhos do piso de cerâmica, tão paulistanos quanto Mário e também tão clássicos quanto. E ganhei! nos ouvidos atentos à primeira sonoridade dos meus textos. Eu era escritora em voz alta e tinha um primeiro público!
Querendo novos estímulos, querendo andar, passei a levar caderno ou notebook a outros ambientes. No Museu Anchieta, do Pateo do Collegio, as paredes de taipa de pilão me ensinaram antigas formas de sustentação. Recarreguei as minhas baterias (já que as do notebook não dá) no espaço de leitura com lago artificial do Sesc Pompeia. No Centro Cultural São Paulo, atravessei coreografias para, nas cadeiras multicores que também abrigavam estudo e aulas, gestar uma antologia de manifestações literárias e políticas. E, por depósito interativo, um poema meu também queimou junto com todas as exposições, reflexões e flexões de língua que se achavam abrigadas no Museu da Língua Portuguesa.
Escrevo em pontos pela cidade. Ligando os pontos, sou uma escritora em São Paulo!
Senha I1772 Guichê 6. Olho pro painel, risinhos internos. Vou em direção. Sumiu na tela. Olho pro homem do guichê 6, Você chamou? A gente duvida até dá felicidade inventada. Sim, I1772.
Eu vou mandar esses normal. Carta comum? É. Enquanto você vê esses, me empresta o durex pra reforçar esse aqui? Aponto para o gordo envelope pardo. Deixa que eu faço isso. Ele olha duas vezes os envelopes e vê meu nome e endereço como destinatário em uma carta e como remetente em outra. Ele olha de novo. Esse envelope vai voltar pra você é isso? É. O mesmo sorriso sem graça. Eu já te expliquei isso. O mesmo atendente, por isso achei que traria sorte. Ah, já sei é algo que você escreveu. Nossa, você lembrou. Sim, eu tenho vários pacotes de mim pra mim fechados em casa.
Entregando o envelope pardo prenhe, apresento-o como o destinado a mais um concurso literário. O atendente atento, que chama-se Beto, enquanto protege os limites da correspondência com a fita adesiva do Sedex, me pergunta se eu ganhei aquele concurso de faz dois anos. Digo que não, mas me apresso a minimizar contando que ganhei outros, publicações em antologias e dois mil reais de 4º lugar crônica em um da nossa cidade. Olha só eu já me fazendo de importante para o meu público!
Por fim, indaga quanto tem de valor ali. Não sei. Como quantificar possibilidades? Quanto em real é o peso daquilo que se entende que realmente se é? Mas a pergunta era mais simples. Não tem mais de 50 reais aqui em papel, né?Assenti. Então o seguro é automático. Beto explicou que o correio ressarce valores altos no caso de extravio. Me assustei. Por favor, que o correio não perca o meu, se perder o conto não chega, e vai que eles iam achar que eu estou revolucionando a literatura, eu perco o prestígio e 50 mil reais! Já é tão difícil despachar o recheado envelope pardo, a vontade é de ficar agarrada a papéis que dizem que escrevo. Vias da minha voz.
Quando Beto colocou o Aviso de Recebimento preenchido em cima do remetente pardo fiz ISHI!!! O que você esqueceu? Não pode ter meu nome no remetente. Ele parou com o cartão no ar. É regra do concurso que não tenha nome no remetente, só o pseudônimo. Dá aí, eu risco o meu nome. Ah, não vai riscar o AR. Ele pegou a fitinha que sobra das margens do papel adesivo e cobriu minha real identidade. Eu, prática, Deixa sem nome. Ele, simpático, Coloca seu pseudônimo! Coloquei. O seu porteiro vai perguntar: Quem é Mariposa? Vai ser engraçado, pensei.
E lá se foi o meu pseudônimo no remetente do AR, vou ter que chegar em casa e explicar para o porteiro. É oficial. Muita gente já sabe. Eu escrevo.